Em quadro agravado por crise econômica e desemprego, setor discute opções para se sustentar
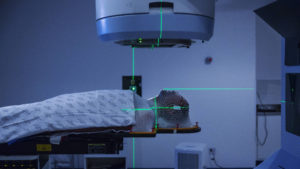
Com a perda de mais de 3 milhões de usuários, o setor da saúde suplementar busca formas de se sustentar em um cenário de mercado de trabalho formal desaquecido e altos custos assistenciais.
Neste ano, a ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) chegou a anunciar um leve aumento (0,1%) no número de beneficiários em alguns meses, mas acabou concluindo que ocorreu uma queda na comparação com 2017.
“As coisas estão piores do que se imaginava. Não houve aumento de emprego com carteira assinada e, sem isso, não há crescimento do número de beneficiários”, afirma Luiz Carneiro, superintendente-executivo do Iess (instituto de estudos do setor).
Dos 47,1 milhões de usuários de planos de saúde no Brasil hoje, 67% têm planos empresariais e outros 14%, planos coletivos por adesão. Os beneficiários de planos individuais ou familiares somam cerca de 19% do total.
A perda de usuários, porém, é apenas uma parte dos problemas de um setor que tem uma série de distorções que geram altos custos médico-hospitalares e que, no fim, colaboram para o aumento do preço do plano pago pelas empresas ou diretamente pelo beneficiário.
Entre eles, estão o atual modelo de remuneração de prestadores de serviço, como os hospitais, que privilegia o desperdício e não o desempenho.
No chamado “fee for service” (pagamento por serviço), a conta é feita a partir de cada exame, procedimento, material, diária etc. O valor final varia muito e a remuneração depende do volume de serviço e material envolvido.
“Se você não tem um limite do que será pago por um determinado procedimento, isso gera incentivos para a sobreutilização [desperdício]. A decisão baseada em custo fica em segundo plano”, diz o economista Paulo Furquim, professor do Insper.
Novos modelos buscam opções que tornem o custo de cada atendimento mais previsível e associado ao desempenho. A Amil, maior operadora de planos de saúde do país, já adota modelos alternativos com 32% dos seus prestadores, entre eles o ABP (Adjustable Budget Payment, ou Pagamento por Orçamento Ajustável, em português).
Inspirado em experiências internacionais e adaptado para a realidade brasileira, o ABP analisa o histórico de custos de um determinado hospital e, com base na média anual, oferece um pagamento fixo mensal.
O valor, corrigido anualmente pelas alíquotas econômicas oficiais, é ajustado a cada trimestre conforme a complexidade e o volume de atendimentos.
O modelo já foi implantado em hospitais como o Santa Paula e o Santa Catarina, na capital paulista. Outros 33 já foram negociados e 18 estão com negociações em andamento. A ideia da Amil é que até o final de 2018 os novos modelos de remuneração atinjam 35% dos prestadores.
Segundo Claudio Lottenberg, presidente do UnitedHealth Group Brasil (dono da Amil), além da mudança do modelo renumeração, há outras iniciativas associadas que têm se mostrado eficientes do ponto financeiro e de melhoria da assistência.
Entre elas, estão unidades de atendimento multidisciplinar baseadas em atenção primária, com equipes compostas por médicos de família, enfermeiros e agentes de saúde, além de fisioterapeutas, nutricionistas e psicólogos (para casos específicos).
“Paciente crônico tem muita complicação. A proposta é coordenar o cuidado dele. O diabético vai lá, é monitorado, isso evita que ele descompense a doença para a fase aguda e, consequentemente, acaba não precisando de um atendimento emergencial dentro do hospital, que é muito mais caro”, explica.
Segundo Solange Mendes, presidente da FenaSaúde, federação que reúne as maiores operadoras de planos de saúde, o novo modelo de pagamento mais predominante tem sido o de pacotes. “Em vez de ficar cobrando por determinado exame, você faz um pacote. E também leva em conta o resultado de desfechos clínicos. Tem que mudar o modelo de remuneração, tem que ter um cuidado mais integrado da saúde.”
Mas, por enquanto, essa mudança está mais presente nas operadoras com redes de hospitais próprias. “As outras dependem que prestadores se disponham a atuar com esse modelo. Isso ainda está começando”, diz Solange, que aponta a baixa oferta de médicos de saúde da família como um dos impasses para a adoção de um novo formato de assistência com maior foco em prevenção e cuidados contínuos.
Em nota, a ANS informa que mantém um grupo de trabalho para estudar alternativas “que visem à sustentabilidade do setor” e diz que planeja dar suporte técnico a operadoras que queiram testar mudanças em projetos-piloto, de forma voluntária.
Na opinião de Furquim, do Insper, essas novas iniciativas são bem-vindas, mas precisam vir acompanhadas de incentivos para uma assistência de mais qualidade e de maior transparência de informações.
“A mudança para um modelo de pagamento baseado em valor [resultado] só será possível se tiver a divulgação do desfecho, do resultado da assistência prestada”, reforça Carneiro, do IESS.
Mês passado, o setor também sofreu derrota após a ANS derrubar resolução em que usuários poderiam ter de arcar com até 40% do valor dos atendimentos, procedimento conhecido como coparticipação.
A decisão ocorreu após o STF (Supremo Tribunal Federal) suspender provisoriamente a norma. A agência diz que a revogação ocorreu em função da apreensão que o tema tem causado na sociedade” e que fará novas audiências públicas sobre o tema.
“Nos EUA, a introdução da franquia fez despencar o preço dos planos. Há acordos empresariais em que o usuário ganhou do empregador uma conta poupança de onde tira o pagamento da franquia. Todos ganham”, afirma Carneiro.
Mário Scheffer, professor da Faculdade de Medicina da USP e conselheiro do Idec (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor), contesta. “A grande reivindicação das operadoras nesse momento é liberar planos mais baratos, que são uma caixa de surpresas.”
Segundo ele, uma mudança levaria o país ao período antes de 1998, antes da entrada em vigor da nova legislação de planos de saúde, momento em que havia uma diversidade de planos fragmentados e pouca proteção do consumidor.
“Vemos uma tendência de uma piora de serviços, diminuição de rede credenciada, além de excluir cobertura e oferecer produtos com coparticipação muito elevada”, avalia.
Ainda de acordo com Scheffer, o argumento das operadoras de crescimento nos custos é questionável. “Quando olhamos os documentos, vemos que as operadoras continuam exibindo uma boa performance econômica e financeira.”
Apesar da revogação da norma, Mendes, da FenaSaúde, diz que o setor deve continuar a defender um aumento no teto de coparticipação. “A partir do momento em que o consumidor se ver como parte responsável nessa relação, ele vai começar a ter participação mais efetiva”, diz.
“A maioria das pessoas hoje deseja ter plano, o que impede é o valor. É importante tentar ver como reduzir custos em saúde, com redução de desperdício, disclousure [divulgação] de informações e maior participação do consumidor para ver o que quer e o que está disposto a pagar.”
Para Reinaldo Camargo Scheibe, secretário-geral da Abramge (Associação Brasileira de Planos de Saúde), quem perdeu com a retirada da resolução foi o usuário, e não as operadoras de saúde.
“Não tem impacto negativo [para os planos] porque muitos contratos já preveem a coparticipação. Quem iria se beneficiar é o consumidor, o empresário”, afirma.
Na opinião de Scheibe, o país precisa de uma política de estado da saúde voltada para as necessidades e desafios atuais e que una os setores público e privado.
“Tem que acabar essa dicotomia entre público e privado. Faz sentido eu ter tomógrafo parado num hospital privado enquanto o paciente SUS aguarda meses por um exame? É desperdício de recursos e de vidas”, afirma.
A mesma política, segundo ele, deveria definir qual deve ser a cobertura de saúde adequada para o país. “Essa história de dar tudo para todos [entendimento de juízes ao dar ao favorecer o consumidor ou usuário do SUS] é insustentável, está provocando uma avalanche de ações judiciais.”
